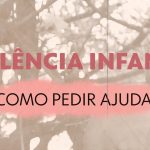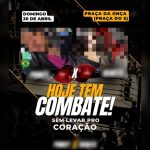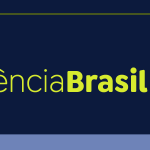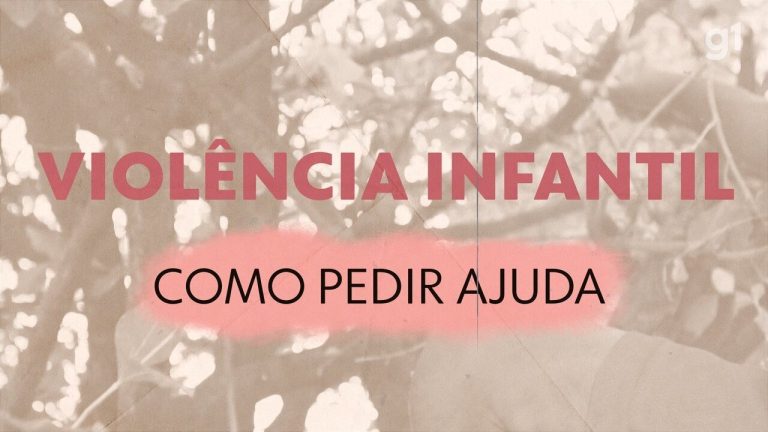Por Deisy Ventura, professora títular da Faculdade de Saúde Pública e vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais, ambos da USP
Com o notável avanço tecnológico e a profunda inanição ética que marcam as últimas décadas, a humanidade está bem-preparada para disseminar — de forma cada vez mais global, rápida e eficiente — doenças, notícias falsas, teorias conspiratórias, vícios, conflitos e iniquidades. Já para conter a propagação desses males, o que só pode ser feito por meio da cooperação internacional, o mundo carece de preparo, mostrando-se incapaz de enfrentar de forma conjunta e efetiva os desafios que compartilha. A ausência de vontade política para implementar antigas metas e assumir novos compromissos pode ser atribuída a diversas razões.
No caso da covid-19, a maior falha da comunidade internacional foi a incapacidade de garantir o acesso equitativo a vacinas e outros insumos essenciais ao enfrentamento da pandemia. O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, chegou a falar de “apartheid vacinal” e de “falência moral” para denunciar a brutal concentração de doses de vacinas contra a covid-19 nos países ricos.
Fazer sobrar e até desperdiçar vacinas e insumos no próprio território enquanto eles faltam em outros lugares, além de antiético, é um gesto ineficiente em matéria de controle da propagação das enfermidades, que compromete a segurança de todos, inclusive a dos países que os concentram. Porém, sob crescente influência de movimentos nacionalistas, os governos são condicionados por poderosos lobbies nacionais e transnacionais que promovem direta ou indiretamente a morte massiva e o sofrimento de bilhões de pessoas mundo afora, como resultado da manutenção de exorbitantes margens de lucro e outros privilégios de corporações.
Aos ventos ideológicos e interesses econômicos adversos à cooperação em saúde somam-se a ofensiva específica das extremas direitas contra a OMS, intensificada nos últimos anos, e a atual ruptura dos Estados Unidos com o multilateralismo, que inclui a retirada do país da OMS e a suspensão do financiamento não apenas da organização mas também de numerosos programas internacionais de combate a doenças e de promoção da saúde.
É neste contexto desafiador que um acordo internacional sobre pandemias deve ser aprovado, na semana que vem, por quase duas centenas de Estados reunidos em Genebra, Suíça. Durante cerca de três anos, um Órgão Intergovernamental de Negociação, criado especialmente para esta finalidade no âmbito da OMS, discutiu a proposta que será submetida à 78a Assembleia Mundial da Saúde, órgão deliberativo máximo da organização, que se reunirá entre 19 e 27 de maio próximos.
Caso seja aprovado, o que provavelmente ocorrerá com grande estardalhaço, o acordo sobre pandemias nos trará o primeiro instrumento jurídico multilateral de caráter obrigatório que é destinado especificamente às pandemias. Ele é bastante diferente do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que existe em diferentes versões desde 1951 e abarca atualmente todas as emergências de saúde pública de importância internacional, e não apenas as emergências pandêmicas. Trata-se de outro tipo de norma jurídica, eis que o regulamento tem base legal e características distintas das convenções e acordos, conforme a Constituição da OMS. Ademais, o novo acordo dispõe sobre matérias não previstas pelo RSI. A própria ideia de um tratado sobre pandemias fundou-se na esperança de que os Estados assumissem compromissos políticos inéditos, o que de fato ocorreu, porém de forma muito limitada.
Complexo, com diversas questões pendentes, condicionalidades e lacunas, o acordo exige análise detida. É o que faremos por ocasião da próxima Assembleia Mundial da Saúde, quando nosso Grupo de Trabalho Acordo sobre Pandemias e Reforma do RSI, fruto de convênio entre a USP e a Fiocruz, publicará uma análise completa sobre o conteúdo deste acordo, em sua sexta nota técnica.
Por enquanto, eu gostaria de destacar três aspectos do acordo: uma possível inflexão na abordagem internacional das pandemias; a resistência diante da ferrenha oposição das extremas direitas à adoção de uma norma internacional sobre o assunto; e a oportunidade que ele oferece para retomada da prevenção, da preparação e da resposta às pandemias nas esferas nacionais e locais.
Primeiramente, o simples fato de existir um acordo sobre pandemias pode ser considerado uma grande conquista quando se tem em conta que os Estados Unidos renunciaram ao seu papel histórico de líderes do campo da saúde global. O governo norteamericano simplesmente abandonou as negociações do acordo, entre outros gestos de ruptura com a OMS que abordei em coluna anterior.
A conclusão de um acordo, ainda que tímido pelo imberbe grau de compromisso alcançado, confirma que pode haver saúde global sem os Estados Unidos, e que talvez haja espaço para a consolidação de uma abordagem mais aberta aos interesses do Sul Global do que a preconizada pelos norte-americanos.
Não há dúvidas de que a clivagem Norte/Sul traduziu-se fortemente nas negociações do acordo. Os países do Sul Global, com destaque para o grupo de países africanos, mantiveram firmes posições em diversos temas, entre eles o acesso equitativo aos produtos necessários para enfrentar as pandemias. Em uma das maiores controvérsias do processo negociador, por exemplo, buscaram condicionar o fornecimento de informações sobre patógenos, exigido pelos países ricos, ao usufruto dos benefícios que decorrem do acesso a tais informações, como, por exemplo, a fabricação de vacinas.
Tão tensas foram as negociações que muitas vezes o consenso pareceu impossível. Surgiram, então, fórmulas capazes de colher a aceitação de todos, mas que relativizam, adiam ou esvaziam certos compromissos que eram considerados cruciais aos olhos da sociedade civil e de especialistas, entre eles a flexibilização de direitos de propriedade intelectual e a transferência de tecnologias.
Entretanto, em que pese estar aquém do que é necessário para uma efetiva resposta da comunidade internacional às pandemias, o acordo marca uma inflexão no enfoque das emergências de saúde. O foco no fortalecimento de sistemas de vigilância capazes, não de evitar as doenças, mas de contê-las nos países de baixa e média renda para que não entrem nos países ricos – tendência marcante em governos norte-americanos como o de Barak Obama – foi posto em xeque pela preocupação com a equidade que transparece no novo acordo.
É o caso, por exemplo, da criação de uma rede global relacionada a suprimentos e logística (The Global Supply Chain and Logistics Network, GSCL), preconizada pelo artigo 13 do acordo, embrião de um mecanismo que pode ser crucial na resposta às pandemias. Seu verdadeiro aporte dependerá das condições de sua implementação, ainda incertas, mas, ao menos no papel, a busca da equidade jamais teve tanto relevo quando se trata de emergências sanitárias, em geral restritas ao jargão das vigilâncias.
Em segundo lugar, é fundamental recordar que, desde o anúncio das negociações, o acordo sobre pandemias foi alvo de intensa campanha de desinformação. Orquestrada no plano transnacional por movimentos de extrema direita, o movimento de oposição ao acordo disseminou, entre outras mentiras, a falsa crença de que os governos nacionais estavam transferindo seus poderes à OMS, tornando-se impedidos de coordenar a resposta às pandemias em seus respectivos territórios.
Vitória Ramos, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, Leandro Viegas, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da USP, e eu publicamos um levantamento dos principais elementos da campanha das extremas direitas contra o acordo sobre pandemias. A derrota das extremas direitas, que mostraram-se incapazes de evitar a conclusão deste acordo, fica ainda mais evidente quando se considera o novo mandato de Donald Trump, que, como já foi dito, vem atacando frontalmente a saúde pública, tanto no plano interno como no plano internacional.
Por fim, as negociações do acordo, assim como as da reforma do RSI, mantiveram os Estados, alguns deles atualmente em plena guerra, discutindo juntos soluções para o enfrentamento das pandemias e outras emergências de saúde pública, que depende de medidas de longo prazo, atenção e investimentos constantes. Diante do crescente esquecimento da experiência da covid-19, a OMS utilizou o processo negociador para passar o recado de que a prevenção, a preparação e a resposta às pandemias devem ser pautadas nas agendas políticas nacionais de forma permanente, sob pena de repetirmos indefinidamente os erros do passado, à frente deles as numerosas mortes que poderiam ser evitadas.
Neste sentido, a aprovação do acordo pela Assembleia abrirá uma etapa de discussão do acordo que será encaminhada por cada governo conforme os respectivos trâmites nacionais de aprovação dos tratados internacionais, salvo aqueles que já anunciaram antecipadamente seu rechaço, como é o caso dos Estados Unidos e da Argentina. Potencialmente em 191 países, portanto, surge uma valiosa ocasião para que legislações sejam aperfeiçoadas, e que políticas e planos nacionais sejam elaborados ou atualizados.
Creio que apesar de seus numerosos limites e da flexibilidade excessiva de seus dispositivos, o acordo dá aos Estados a ocasião de recuperar o sentido de urgência que foi perdido após a covid-19, rompendo um torpor que contrasta com o avanço galopante das ameaças à saúde pública, agravadas por fenômenos como a desinformação em larga escala, a destruição constante da natureza, os modos de produção de alimentos, as mudanças climáticas, e o desmonte de sistemas e políticas de saúde, entre outros fatores. Não se pode esperar o começo de uma nova pandemia para tomar as providências que tornarão o mundo capaz enfrentá-la. Oxalá a oportunidade aberta pela aprovação do acordo sobre pandemias não seja desperdiçada.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)