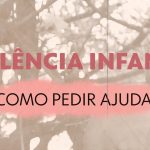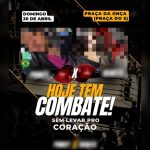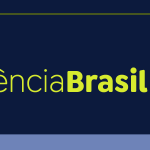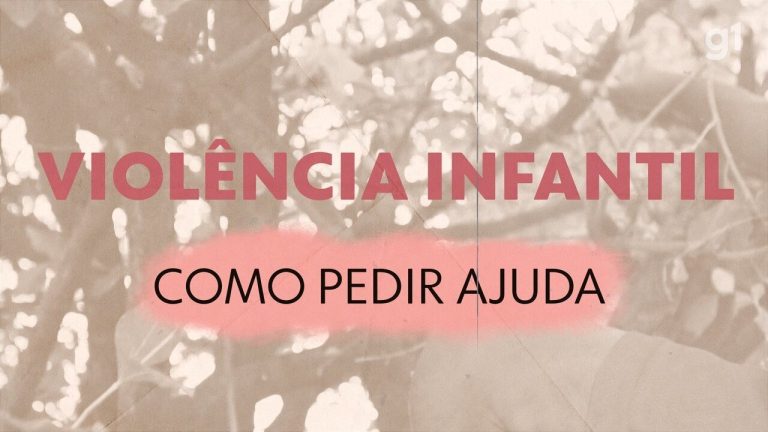Por Hernan Chaimovich, Professor Emérito do Instituto de Química da USP e ex-presidente do CNPq
Lawrence Summers, ex-reitor de Harvard, chama a sociedade à resistência contra as iniciativas destruidoras do governo Trump para preservar o espírito de uma das universidades de maior prestígio no mundo. Assistimos, impávidos, à autocensura dos professores das universidades húngaras. Quando também lembramos das tentativas de Bolsonaro de desprestigiar as universidades públicas no Brasil, quiçá seja hora de nos perguntarmos se, e quando, o caminhar para a debacle cultural, liderado pela extrema-direita, chegará ao Brasil.
Em artigo recente, o professor Eugênio Bucci, pensando sobre o que acontece hoje nos Estados Unidos sob Trump, afirma que “o martírio da universidade brasileira começa lá”. “O fato de maior peso para o futuro da universidade pública brasileira não acontece no Brasil. Acontece lá fora. Acontece na Casa Branca, em Washington, epicentro de um tsunami radioativo que se alastra pelos campi de Columbia, em Nova York, de Tufts, em Boston, e de Yale, em New Haven”. Eu sou algo mais otimista que meu colega Bucci, e penso que está na hora de enfrentar o desafio de implantar mudanças na estrutura da USP, antes que as ameaças externas cheguem aqui. Uma autocrítica efetiva é essencial para realizar reformas internas transparentes, que possam reafirmar o respeito e o apoio da sociedade por uma universidade diversa na qual o pensamento é livre.
Quando e se a debacle cultural nos ameaçar, poderemos enfrentar as ameaças com uma estrutura que seja, ao menos, contemporânea. Por estarmos, cada dia mais, ignorando as mudanças culturais evidentes na juventude de hoje, contribuímos para afastar um enorme contingente de futuros líderes da ideia de que estar, e se formar na USP, é relevante. Mantendo a estrutura atual, será também cada vez mais difícil acolher jovens para, após obter um grau profissional na universidade, ingressar na pós-graduação com certa excelência e se formar como mestres ou doutores num prazo razoável.
Encaminhando esta reflexão, volto um pouco no tempo. Ao celebrar o fim da cátedra no fim da década de 1960, alguns docentes propunham uma estrutura de graduação distinta da que impera até hoje. Sugerindo a modificação da estrutura dos cursos tradicionais, os “revolucionários” de então defendiam uma graduação baseada nos colleges norte-americanos dessa época. A sugestão era de que os alunos ingressassem na USP, e não nas carreiras profissionais. Após dois a quatro anos de formação geral, estariam aptos para decidir o seu futuro profissional. Propostas deste tipo voltaram a aparecer quando o estatuto da USP, no fim da década de 1980, foi discutido, deliberado e promulgado durante a reitoria do professor José Goldenberg. Assim como na discussão de 1970, as faculdades profissionais e a grande maioria do corpo docente conservadoramente rejeitaram as propostas de um ciclo inicial de formação geral.
Trinta e tantos anos se passaram desde a promulgação do último estatuto da USP em 1988. As mudanças tecnológicas se aceleraram, graças à ciência produzida nas universidades, nos institutos de pesquisa e em grandes e pequenas empresas. Se tivéssemos adormecido em 1980 e despertássemos hoje, o mundo seria praticamente irreconhecível, assemelhando-se mais a uma caricatura saída das tiras cômicas dos Jetsons.
Resoluções posteriores das universidades públicas de São Paulo aumentaram a diversidade de classe social, origem étnica e de gênero do seu corpo discente e docente. Para mim, antigo docente, observar esta diversidade estimula e emociona.
A universidade, porém, pouco ou nada fez para reconhecer estruturalmente mudanças induzidas na sociedade pelo avanço científico-tecnológico. Os estudantes que ingressam hoje têm hábitos, formas de comunicação, comportamentos e valores que os distinguem daqueles de gerações anteriores.
Não se trata de juízo de valor. Os jovens de hoje não são melhores ou piores do que os jovens da minha geração. Hesíodo e alguns outros filósofos gregos da antiguidade pensaram que os jovens de seu tempo eram muito piores que os da sua geração. A história demonstrou quão errado era esse juízo de valor.
Passo a descrever e prescrever mudanças na estrutura do ensino da graduação, que respeitem as transformações pelas quais o mundo passa. Reconheço que a comunicação por “zap”, usando poucas palavras e muitos emojis, não representa, a meu ver, uma eficiente capacidade de comunicação real. Entender a redação de textos como uma simples exigência para passar no vestibular ou no Enem pouco os prepara para transformá-los em cidadãos protagonistas e adaptados para um mercado de trabalho em constante mutação. Reconhecer a mudança cultural e mudar o ensino para adicionar habilidades que, creio, serão necessárias a todos em um futuro muito próximo e poderão aumentar a capacidade da universidade de resistir a pressões externas que podem acabar com a liberdade acadêmica.
Assim, para adicionar competências que podem ampliar a capacidade desses jovens, creio, voltando a uma luta que me persegue há tempos, que seria possível promover uma discussão sobre o que significa ingressar numa universidade, como as públicas paulistas. Ingressar na Universidade, e não em uma Faculdade ou Instituto, pode originar uma sensação de pertencimento a uma instituição grande e complexa de ensino e pesquisa. Para isso, universidades como a USP teriam que ensinar a todos os ingressantes, durante um período a ser avaliado, o que constitui essa universidade.
Adicionalmente, algumas competências fundamentais poderiam ser desenvolvidas. Este ciclo inicial seria para todos os que vão se tornar químicos, médicos, filósofos ou quaisquer outros profissionais. O ensino aqui deveria preparar a todos para o exercício da cidadania, e seria útil para todos os futuros destinos profissionais. Como início de discussão, disciplinas necessárias seriam as de letramento acadêmico, Brasil, programação e idiomas.
Numa disciplina de letramento acadêmico, seria possível aprender a refletir, compreender um texto, às vezes longo, e colocar no papel, computador ou qualquer outro meio de comunicação, suas ideias em temas que não podem ser representados somente com dois emojis e uma palavra. Seria possível então voltar a falar e escrever em português.
E, como a ditadura acabou, apesar dos que anseiam a sua volta, uma disciplina sobre o Brasil poderia fazer que ingressantes estivessem conscientes da diversidade, iniquidade, complexidade e dimensão de seu país.
Na internet, pode-se aprender linguagem de programação como o Python usando esquemas de ensino tão simples que crianças rapidamente aprendem. Dominar o seu celular inteligente ou saber usar o programa Word não quer dizer que alguém sabe programar. Sem isso, a chamada inteligência artificial e todas as aplicações existentes e as que virão serão ininteligíveis. Saber programar pode ser o diferencial para ter um emprego decente e entender o seu universo.
Espero que o mundo volte a ser um lugar aberto onde todos possam se comunicar. No entanto, para que todos possam se comunicar, é necessário algum idioma comum. O esperanto não deu certo, mas, sendo realista, inglês ou mandarim vão ser idiomas universais quando os novos alunos se formarem.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)