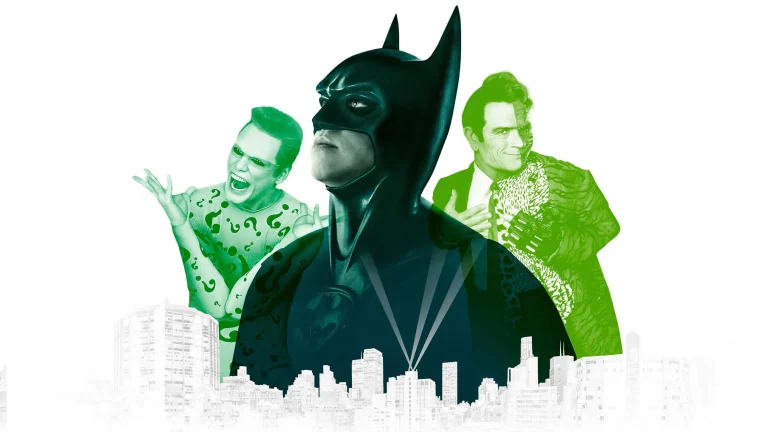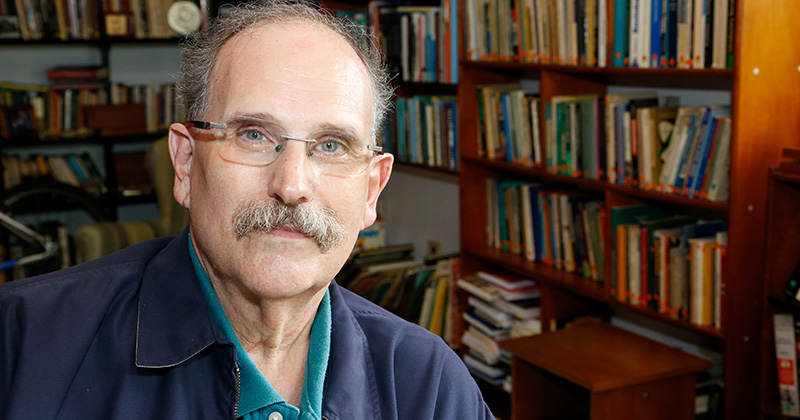
Harvard, a universidade mais antiga do país e a mais renomada no mundo, tornou-se o alvo predileto de Trump. Ao decidir não se dobrar às exigências do governo, foi alvo de retaliação que congelou US$ 2,2 bilhões em bolsas de estudo e em contratos de pesquisa.
Nesse conflito aberto pelo governo, Harvard está acompanhada de outras universidades de prestígio que também passaram a ser pressionadas por exigências que vão muito além dos cortes orçamentários, das acusações de cunho ideológico ou do combate à imigração ilegal. A guerra é política em toda sua dimensão. Até o momento, mais de 60 instituições de pesquisa foram alvo de investigações federais por supostas violações políticas, de raça e de religião. Além de Harvard, a tesoura de Trump atingiu a Universidade de Cornell (no estado de New York), com um corte de US$ 1 bilhão; Northwestern (Illinois), com suspensão de repasse de US$ 790 milhões; Princeton (New Jersey), que amargou US$ 210 milhões; Universidade da Pennsylvania (Pennsylvania) que perdeu US$ 175 milhões; e Columbia (New York), que foi a primeira a se dobrar às exigências de Trump sem conseguir, no entanto, recuperar US$ 400 milhões de verbas de apoio à pesquisa na área da saúde. Tudo indica que os próximos passos serão de confronto com as universidades públicas, a começar pela Universidade da Califórnia, a única a se posicionar entre as top ten dos EUA.
Em 2021, antes da vitória eleitoral de Donald Trump e da explosão da guerra no Oriente Médio, seu vice, J. D. Vance, havia utilizado uma retórica guerreira para caracterizar que “as universidades são o inimigo” dos EUA, que não poderiam ser reformadas por dentro e “nós temos, honesta e agressivamente, que atacar as universidades neste país”. Para o extremismo de ultradireita que tomou conta do Partido Republicano, impulsionado pelo movimento Make America Great Again (MAGA, que dá abrigo para grupos supremacistas brancos e neonazistas), as universidades devem ser desmanteladas para viabilizar seu renascimento como forças de uma nação reconfigurada por Trump.
A obsessão do atual presidente por desmontar as universidades – vistas como incubadoras de “marxist maniacs” – é coerente com sua campanha sistemática para desacreditar os centros de formação e a elite bem-educada dos EUA. As exigências do governo incluem, dentre outras, a eliminação de programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e de qualquer referência que possa ser associada ao que chama de “cultura woke”; a proibição de máscaras durante protestos nos campi; suspensão de contratações baseadas em cotas e políticas afirmativas; exigência de cooperação plena na aplicação restrita da lei de imigração, com vigilância sobre quais estudantes estrangeiros as universidades podem ou não matricular; submissão das universidades a auditorias externas e controle de faculdades e departamentos suspeitos de viés ideológico; e controle do que pode e o que não pode ser lecionado.
Essa avalanche de demandas pretende pressionar as universidades a revisar a contratação de professores e funcionários, a definição curricular, a escolha de dirigentes e a seleção e acolhimento de estudantes estrangeiros, assim como a modificar suas políticas de apego à liberdade de expressão e de organização. Não funcionou com Harvard, que rejeitou submeter-se a Trump e abriu processos contra o governo, mesmo correndo o risco de perder isenção de impostos que usufrui como instituição educacional de pesquisa.
Não se trata de anistiar os centros universitários de seus vícios e erros – que não são poucos –, inclusive no terreno do combate ao antissemitismo. Mas de perceber que as restrições colocadas por Trump ferem direitos consagrados e apagam todo traço de autonomia acadêmica ao condenar explicitamente estudos que desagradam à Casa Branca (como o clima, a sustentabilidade, raça, gênero, a segurança da inteligência artificial e as vacinas). Ao instaurar um clima de medo, o governo diminui a tradicional capacidade dos EUA de atraírem estudantes e pesquisadores brilhantes do mundo todo. O desmantelamento das universidades certamente não fará a América Great Again. Pelo contrário, abrirá caminho para a construção de uma ordem autoritária nos EUA, em estilo celebrado pelo extremismo de direita, inclusive aqui no Brasil.
Os ataques reverberam no conjunto da sociedade, no mundo da economia e da política, além de atravessar fronteiras e sacudir todo o planeta. Não é original, porém. Em tempos recentes, Viktor Orban reduziu o financiamento público às universidades em 40% em apenas dois anos, reprimiu todo traço de contestação e chegou até mesmo a expulsar da Hungria a Universidade da Europa Central, criada com base em princípios democráticos após o colapso da União Soviética .
Mesmo com pouco tempo de presidência, Donald Trump deixou claro que usará bilhões de dólares em bolsas e contratos federais congelados como alavanca para forçar as universidades a se dobrarem à sua agenda, que combina a luta político-ideológica com seus planos para diminuir o gasto público e eliminar impostos para as grandes corporações. De nada adiantaram os alertas sobre os riscos que os cortes representam para a ciência, a tecnologia e a inovação; tampouco surtiram efeito as insistentes advertências de economistas, empresários e mesmo de policy makers sobre as consequências de uma eventual paralisia das universidades na capacidade inovadora, na competitividade e na liderança global dos EUA. Para não falar da desconfiança generalizada que a Casa Branca irradia a cada movimento.
A herança desprezada por Trump
As universidades foram fundamentais para os EUA se tornarem a mais poderosa e inovadora economia do planeta. É certo que ao longo de sua história não foram poucas as polêmicas e controvérsias que envolveram a prosperidade norte-americana, pois nem sempre os EUA agiram em benefício de outras nações e populações, em especial das mais vulneráveis. Mas é praticamente incontestável que universidades como Harvard, MIT, Yale, Stanford, Universidade de Chicago, Princeton, Columbia, Universidade da California e Carnegie Mellon alçaram-se como os principais celeiros formadores de lideranças políticas, empresariais, culturais e artísticas que ajudaram a redesenhar o curso da história contemporânea, dos EUA e do mundo.
De Harvard, uma universidade fundada no século 17, antes mesmo da criação da nação americana, saíram oito presidentes; de Yale, cinco, e três passaram pela Columbia. Na trajetória americana, o entrelaçamento da política com a economia, o poder militar e a ciência foi determinante para a ascensão dos EUA a partir da segunda Grande Mundial. Mesmo as lembranças amargas de Hiroshima e Nagasaki se combinaram com o deslumbramento provocado pelo primeiro passeio do homem na Lua em 1969, eventos que se tornarem símbolos – para o mal-estar ou bem-estar – do novo pacto entre poder e conhecimento que marcou a segunda metade do século 20 até os dias de hoje. O envolvimento direto do governo federal a partir dos anos de 1950 foi decisivo para o florescimento do sistema científico e tecnológico dos EUA, que se desenvolveu com características únicas, a partir de uma intensa parceria entre o setor público, universidades e empresas.
Não deixa de ser impressionante notar que os EUA amealharam mais de 400 prêmios Nobel, ou cerca de 70% das distinções que a academia sueca atribui anualmente desde o início do século 19. Com olhar mais específico, é possível identificar que dentre estes, mais de 160 pesquisadores foram graduados, fizeram pós ou ocuparam posições dirigentes em Harvard.
Os prêmios sugerem um sistema minuciosamente construído para produzir conhecimento avançado, que inclui também ganhadores da Medalha Fields (para a área das matemáticas), do Turing (para ciências da computação) e os milhares de profissionais cultivados em seus laboratórios e salas de aula. Essa malha de inovação gerou teorias e tecnologias para o design de microchips, passando pelos carros autônomos até chegar aos equipamentos de ressonância magnética; viabilizou medicamentos e impulsionou a medicina de precisão, a genética e a biotecnologia. Pesquisas em eletrônica básica contribuíram para dar vida à internet, ao GPS e aos smartphones. E muito antes de se tornarem comercialmente relevantes, as redes neurais que sustentam sistemas avançados de Inteligência Artificial foram desenvolvidas em laboratórios universitários e apoiadas de modo decisivo por verbas federais. No fundo, é difícil encontrar uma grande transformação tecnológica nos EUA que não tenha em suas raízes pelo menos uma fatia de financiamento público.
As universidades de pesquisa se articulam com grandes laboratórios federais, com as unidades do National Institutes of Health (NIH), com a National Science Foundation (NSF) e dezenas de agências voltadas para o fomento científico que formam uma rede integrada e voltada para produzir sistematicamente resultados tangíveis para a sociedade e para o mundo.
O NIH, o maior complexo mundial de produção de conhecimento e de descobertas científicas na área da saúde, sofreu cortes de 40% em seu orçamento de mais de US$ 30 bilhões e vive hoje o caos semeado pelo governo. Outras agências, como a Nasa, estão na mira de Trump, que já fechou a US Agency for International Development (Usaid) e interrompeu programas de combate à malária e aids, principalmente na África. O presidente da NSF, Sethuraman Panchanathan, que havia sido nomeado por Trump em seu primeiro mandato, pediu demissão após o corte de 10% de seus funcionários, diante da ameaça de redução de seu orçamento em 50% e cancelamento de programas não alinhados com a Casa Branca. Cerco semelhante ocorre com os Centers for Disease Control and Prevencion (CDC), que atuam contra a disseminação de doenças infecciosas e combate situações de emergência em saúde pública, como na pandemia da covid.
A profundidade das medidas sugere repercussões no longo prazo, provocando frustração e espanto que impressionam a todos. Menos Donald Trump, que acusa as universidades de serem responsáveis pelo enfraquecimento e declínio moral, político e econômico dos EUA. Um diagnóstico fake, que destrói capital científico, gera desalento e ameaça borrar as linhas de futuro para gerações de jovens pesquisadores.
Resistência ou subserviência
Em apenas três meses, Trump deflagrou uma gigantesca guerra comercial, paralisou a Otan, perdoou golpistas, desmantelou a Usaid e castrou dezenas de agências, atacou universidades, desmontou o Ministério da Educação, deportou e prendeu imigrantes, pressionou escritórios de advocacia, humilhou a Ucrânia e elogiou Putin. Apesar de ter sido escolhida como alvo preferencial, a China, até o momento, foi tratada suavemente. A estratégia do presidente, porém, abriu conflitos simultâneos em várias frentes, tentando mudar rapidamente um sistema baseado em pactos, regras e acordos para torná-lo um sistema baseado em poder. Para isso, a afirmação do Executivo como autoridade incontestável que sufoca o Legislativo e o Judiciário tornou-se necessidade primeira. Assim como a sujeição política das principais instituições e da burocracia pública à sua vontade.
O problema é que a estratégia de Trump deu início a uma crise constitucional entre o Executivo e as Cortes de Justiça, cujo desenlace ainda está em aberto; assim como suscitou a resistência de vários estados americanos e alimentou atritos com o presidente do banco central, um ponto sensível para o big business. Na verdade, a cada ação do governo, surgem obstáculos aos seus planos. Desde a reação de Xi Jinping, dos europeus, do Canadá, da Otan, das Nações Unidas e até mesmo de Zelensky, que resiste em entregar 20% de seu território para Putin.
A resistência interna das Cortes de Justiça, que brecam muitas de suas iniciativas, desgasta seu capital político, embora ainda timidamente. Pesquisa do Wall Street Journal revelou que 58% concordam que Trump precisa cumprir as decisões judiciais, mesmo as contrárias às suas determinações; e 62% afirmaram que o presidente não deve fechar agências federais sem a aprovação do Congresso.
Nesse sentido, o passo dado por Harvard ressoa em toda a sociedade. Seu reitor, Alan Garber, tratou as demandas de Trump como peças políticas ilegais, que ameaçaram a autonomia institucional e violaram direitos constitucionais. Harvard indicou que a ingerência do governo pretendia autoritariamente remodelar o ensino superior e que “nenhum governo – independentemente do partido no poder – deve definir o que as universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir e contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir”. E sua resistência superou os discursos, passou para a esfera legal e abriu processos contra o governo dos EUA por um “inédito e inadequado controle sobre quem contratamos e o que ensinamos”, o que estaria em aberta contradição com a Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Ou seja, Harvard deixou bem claro que a “Universidade não abrirá mão de sua independência nem de seus direitos constitucionais”.
Por sua história e peso nos EUA e no mundo, o “não” de Harvard encoraja outras instituições a seguirem caminho semelhante; como o sinal dado por mais de 170 universidades que se uniram na rejeição às políticas do governo; ou pela multiplicação de posicionamentos contrários de cientistas e intelectuais; ou ainda pelos primeiros gestos de reação emitidos por um entorpecido Partido Democrata.
No terreno legal, os atritos subiram de nível, inclusive com a decisão da Suprema Corte (que conta com maioria de juízes conservadores indicados por Trump) de interromper temporariamente imigrantes venezuelanos. Tribunais federais levantaram a possibilidade de responsabilizar autoridades do presidente por desacato caso o governo não traga de volta Kilmar Abrego Garcia, enviado por engano pelo governo para uma prisão salvadorenha.
E, certamente o mais importante, nas últimas semanas a resistência começou a chegar nas ruas, com a realização de protestos em torno do slogan Hands Off (Tirem as mãos), em quase todos os estados americanos. A recusa vai se expandir? Vai ressoar mais forte? A previsão é difícil diante do medo, das ameaças de perseguição e retaliação.
A comunidade científica internacional e os que prezam a democracia torcem pela multiplicação e fortalecimento da resistência. Mas, todos sabemos, nosso mundo não é nem será mais o mesmo, pois Trump transformou os EUA no principal motor da incerteza e da insegurança econômica e geopolítica.
Portas fechadas, janelas abertas
A crise fechou portas nos EUA. Mas a frustração generalizada estimula reações diferenciadas na comunidade científica. Uma recente enquete na Nature revelou que mais de 70% dos cientistas entrevistados consideram a hipótese de deixar os EUA. Um fenômeno inédito e oposto à tendência histórica. A mesma revista Nature, em levantamento mais recente, encontrou que entre janeiro e março de 2025 o número de postulacões a emprego de cientistas fora dos EUA aumentou 32% ante o mesmo período em 2024; no mesmo período, o sistema de buscas da internet mostrou que houve aumento de 35% entre os usuários americanos que procuraram emprego no exterior; somente no mês passado, o aumento foi de 68% quando comparado ao mês de marco de 2024.
Ao mesmo tempo, a quantidade de cientistas dos EUA que procuraram emprego no Canadá entre janeiro e março deste ano cresceu 41% quando comparado com o mesmo período do ano passado, sendo que a procura de pesquisadores canadenses que procuram emprego nos EUA caiu 13%. São os primeiros sinais indicativos de um movimento de brain drain inédito nos EUA.
Pela pesquisa, os cientistas americanos piscaram, ainda que sutilmente. Mas o sinal foi forte o suficiente para despertar o apetite de dezenas de países que gostariam de contar com pesquisadores qualificados em seus laboratórios. Ao detectar esse movimento, o presidente Emmanuel Macron fez um apelo para que cientistas norte-americanos escolham a Europa para dar continuidade ao seu trabalho. Aos olhos do mundo, lançou uma plataforma denominada “Escolha a França para a Ciência” aberta aos pesquisadores de universidades, centros e instituições científicas que estão em busca de financiamento e ambiente não tóxico para pesquisar. Mais ainda, Macron pretende receber pesquisadores de todas as regiões e nacionalidades em Paris, no próximo mês de maio. Ainda que o presidente francês não tenha mencionado diretamente os EUA, sua mensagem foi cristalina: “Na França a pesquisa é uma prioridade, a inovação uma cultura, a ciência um horizonte ilimitado. Pesquisadores de todo o mundo, escolham a França, escolham a Europa!”.
Caminho semelhante foi aberto por universidades, fundações e pelo governo do Canadá com o lançamento do programa Canada Leads 100 Challenge, que pretende atrair os melhores e mais brilhantes cientistas de todo o mundo, muitos dos quais a partir do esperado êxodo dos EUA. O Conselho Europeu de Pesquisa trabalha na mesma direção ao apontar para a criação de um programa específico de cátedras acadêmicas para cientistas de ponta, que prevê infraestrutura, condições de liberdade acadêmica e até mesmo uma estratégia de vistos rápidos para cientistas. Iniciativas semelhantes brotam em praticamente todos os continentes, da Austrália a Taiwan, passando pelo Reino Unido, que trabalha ativamente para atrair cientistas dos EUA com programas de visto acelerado, verbas para pesquisa, garantias de liberdade acadêmica e facilidades para a montagem de redes colaborativas.
O Brasil deve abrir os braços. Rapidamente
O CNPq e a Fapesp também tentam utilizar programas de apoio a estudantes e de repatriamento de pesquisadores brasileiros no exterior para atrair, ainda que timidamente, cientistas dos EUA. Mas ainda é muito pouco. É preciso despertar o senso de urgência nas agências e universidades para aproveitar a janela de oportunidades que Trump, paradoxalmente, abriu.
O Brasil pode oferecer condições e ambiente acolhedor para cientistas de primeira linha que vivem enorme mal-estar em solo americano. Por isso mesmo, editais genéricos terão impacto muito limitado. O Brasil precisa de poucas – mas boas – cabeças com disposição para estagiar em nossas universidades ou em empresas para ajudar o país a se aproximar da fronteira científica e tecnológica. Áreas transversais devem ser o foco dos programas de atração, a exemplo da inteligência artificial, da energia, da biotecnologia voltada para a saúde, agricultura e para o desenvolvimento de vacinas e terapias avançadas. Poucos pesquisadores cultivados em ambientes que expandem as fronteiras do conhecimento, como nos EUA, podem potencializar nosso sistema nacional de ciência e tecnologia. A USP reúne condições para colocar em andamento um programa especialmente voltado para receber pesquisadores estrangeiros. Tomou iniciativas semelhantes no passado. E não vai deixar para trás essa oportunidade.
O tempo é curto. E as janelas podem se fechar a qualquer momento.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)