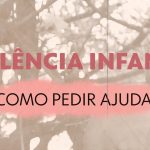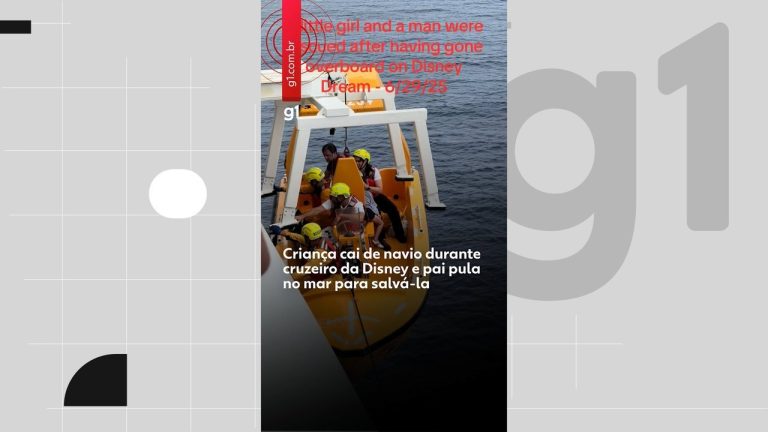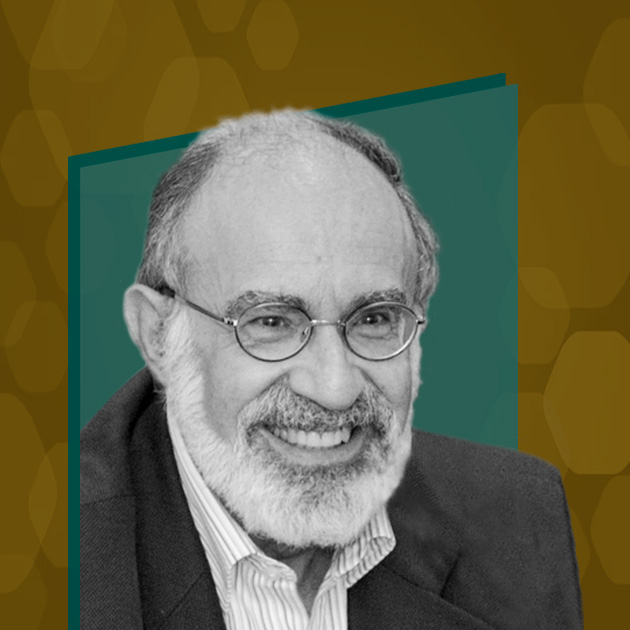
Por Guilherme Ary Plonski, professor sênior da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP e do Instituto de Estudos Avançados da USP
É curioso o vocábulo italiano vespasiano para designar o ubíquo mictório. A origem é atribuída a um episódio envolvendo o imperador Vespasiano, cuja fama inclui ter, com seu filho Tito, suprimido a primeira das três grandes rebeliões da Judeia contra o Império Romano. O resultado foi a destruição de Jerusalém e do Templo, a dissolução do regime político judaico e o exílio em massa da população, tragédia nacional que apenas conseguiu ser revertida dois milênios mais tarde. A importância da destruição dessa nação aguerrida, ainda que pequena e relativamente frágil, pode ser verificada pela consagração do ainda hoje visitável Arco de Tito em Roma, inspirador dos numerosos arcos do triunfo construídos por potências vencedoras em suas capitais.
Em seu governo, Vespasiano focalizou a reforma financeira do Império que, como de hábito, enfatizava o incremento da arrecadação tributária. Nesse contexto, estabeleceu um imposto sobre a urina dos mictórios públicos de Roma, a qual, após coletada, era vendida como insumo para processos químicos da indústria têxtil. O historiador Suetônio relata que quando Tito se queixou da natureza repugnante desse imposto, seu pai ergueu uma moeda de ouro e perguntou se ele se sentia ofendido pelo cheiro. Recebendo de Tito resposta negativa, Vespasiano retrucou dizendo: “No entanto, vem da urina”.
A expressão “dinheiro não tem cheiro” (“pecunia non olet”, no original) passou a ser utilizada, com variações, em obras literárias ao longo dos séculos para ilustrar situações em que personagens alegam que o valor do dinheiro não é contaminado por suas origens. E, sem que isso seja uma surpresa, esse conceito “inodoro” também criou raízes no campo do direito. De forma pouco sutil, a lei que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional estabelece, no artigo 118, que: “A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos (…)”. Em outras palavras, mesmo que oriundos de atividades que transgridam a lei, os impostos são sempre devidos, uma vez que “não têm cheiro”, assim como a moeda dourada empunhada por Vespasiano.
Em contraposição, a comunidade acadêmica desenvolveu um olfato notavelmente apurado para filtrar os “odores” exalados pelos recursos que são aportados às universidades por diversas fontes.
Essa supersensibilidade naturalmente contempla a legalidade ou não da sua procedência. Embora o crime organizado no Brasil tenha penetrado vários segmentos legalmente estabelecidos, como o mercado imobiliário, a esfera do entretenimento (como as atividades associadas ao Carnaval institucionalizado) e, mais recentemente, até a administração pública (inclusive o Poder Judiciário), a universidade tem conseguido se blindar desse tipo de investidas. De fato, são incomuns relatos de presença ou interferência mesmo da mais vulgar contravenção na governança de entidades de ensino superior.
A acuidade olfativa no meio universitário vai muito além do binômio conformidade ou não da origem dos recursos às normas legais vigentes. Discriminam-se entre outros odores:
(i) a natureza jurídica do ente que o aporta, se público ou privado, sendo este último visto com reservas por parcela da comunidade acadêmica;
(ii) o setor de atividade do originador, com especial sensibilidade para os recursos provenientes de segmentos controversos, por incidirem diretamente sobre a saúde, o meio ambiente ou a paz;
(iii) o caráter das contrapartidas requeridas, como a prestação de serviços de pesquisa ou a realização de estudos em que possa haver situações de conflito de interesse;
(iv) a nacionalidade do originador dos recursos, fator cuja relevância aumenta exponencialmente em épocas de turbulência geopolítica, como a presente;
(v) a reputação do doador, particularmente em casos de apoio de caráter filantrópico;
(vi) as condicionalidades para utilização dos recursos, que podem causar desequilíbrio entre unidades mais e menos aquinhoadas quando o apoio é direcionado; e principalmente
(vii) os riscos do recebimento de recursos à autonomia da universidade em suas variadas dimensões, entre as quais a liberdade e a integridade acadêmica, assim como a sustentabilidade das suas finanças.
Este último odor, o que aponta riscos à autonomia universitária, vem se espalhando rapidamente no meio acadêmico estadunidense, com repercussões mundo afora, em decorrência do confronto estridente do atual governo daquela nação com universidades de nomeada, em especial as oito que integram a Liga da Hera (Ivy League, no original inglês), todas elas privadas. As iniciativas de “atrumpelamento” da sua autonomia e a diversidade de reações – que oscilam entre a apaziguadora, adotada inicialmente pela Universidade de Columbia, e a combativa, assumida pela Universidade de Harvard – têm ocupado na grande imprensa espaço comparável ao da chamada guerra tarifária. Em poucas ocasiões o meio universitário ganha tal intensidade de presença na arena pública.
Parcela expressiva dos cada vez mais numerosos textos escritos ao ensejo desses embates enfatiza que se trata de um fenômeno não apenas novo, como também improvável no contexto institucional dos Estados Unidos. Não é bem assim, como evidencia, entre outros, o relacionamento com as fontes de financiamento vivenciado pelo MIT, universidade norte-americana privada que não integra a Liga da Hera, mas é igualmente icônica.
O MIT é reconhecido globalmente como berço de empresas inovadoras baseadas em produtos intensivos em conhecimentos científicos ali desenvolvidos, honrando o lema “Mens et Manus” (“Mentes e Mãos”). E é, também, um destacado criador de tendências em política e gestão universitária. Um exemplo é o modelo de contrato de trabalho que permite o envolvimento dos/as docentes durante 20% do tempo em atividades externas às suas reponsabilidades acadêmicas essenciais. O modelo resultou de vigorosas discussões ali havidas sobre o assunto no início do século passado. A solução dos 20% se tornou referência, tendo inclusive inspirado a flexibilização do regime de trabalho em dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP) aprovada pela USP em 1988.
Chama a atenção o título de artigo a respeito das recorrentes controvérsias sobre como financiar a universidade, publicado na revista Nature por David Kaiser, professor de Física e de História da Ciência do MIT, por ocasião do sesquicentenário dessa instituição: “A busca por dinheiro limpo” (“The search for clean cash”, no original). Diferentemente de Vespasiano, que se valeu do olfato como recurso argumentativo, a menção do autor ao asseio remete a outro sentido humano, o da visão.
Afirma Kaiser que talvez a mais influente das numerosas inovações geradas no MIT seja o seu financiamento. Ao longo da relativamente curta história – a vizinha Universidade de Harvard já tinha mais de dois séculos quando o MIT foi criado –, a instituição vem experimentando periodicamente novas formas de financiamento, oscilando pendularmente entre fundos governamentais e privados. A cada poucas décadas, uma decisão sobre qual dinheiro parece apropriado ou não provoca forte inquietação na comunidade acadêmica, que questiona as consequências que podem advir caso a escolha errada seja feita. Por outro lado, o histórico mostra que propostas de modelos de financiamento que aparentavam ser bizarras à primeira vista foram absorvidas e, mais tarde, emuladas em outras universidades.
Em 1862, pouco após o início da Guerra de Secessão, o presidente Lincoln sancionou a transformadora Lei Morrill de Concessão de Terras a Faculdades, conhecida pela expressão em inglês Land Grant. Ela autorizava estados a vender terras federais, usando os recursos assim auferidos para financiar o estabelecimento de faculdades focadas em tópicos práticos ou aplicados, como agronomia e engenharia. Dezenas de instituições de ensino superior públicas foram então estabelecidas, tornando-se embriões de conhecidas universidades, como as da Califórnia, Estadual de Ohio e Wisconsin-Madison.
O reitor fundador do MIT, William Rogers, convenceu a legislatura do estado de Massachusetts a doar uma parcela considerável dos fundos decorrentes da concessão de terras prevista na Lei Morrill ao incipiente MIT, uma instituição privada que havia sido criada apenas um ano antes, em troca da promessa de oferecer instrução militar a todos os seus alunos. Assim, o MIT iniciou suas atividades com um modelo financeiro paradoxal – uma universidade privada sustentada por fundos públicos.
Gradualmente o MIT passou a se financiar da mesma maneira que praticamente todas as outras universidades norte-americanas daquela época, combinando mensalidades dos estudantes, doações privadas e aportes ocasionais de indústrias locais para financiar pesquisas. Todavia, ao final da Primeira Guerra Mundial essa combinação se mostrou insuficiente, ficando o seu orçamento fortemente constrangido. Para solucionar a crise, o então presidente lançou uma campanha inédita, conhecida como Plano Tecnológico (Tech Plan, no original), pelo qual o MIT financiaria a sua operação com dinheiro advindo de empresas.
Para implementar o plano foi criada uma unidade administrativa dedicada à viabilização de projetos de pesquisa financiados pelo setor empresarial, à abertura das bibliotecas a patrocinadores e ao compartilhamento de dados de ex-alunos com recrutadores de talentos. O plano atraiu numerosas empresas e gerou aportes expressivos. Ao mesmo tempo, fomentou uma polêmica interna acirrada, pois muitos dos acordos proibiam a publicação de resultados sem a aprovação do patrocinador externo, comprometendo a transparência esperada de uma universidade e o próprio entendimento do que estava sendo feito na instituição.
O sentimento em relação ao Plano Tecnológico azedou ainda mais após a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e o início da Grande Depressão, que detonou as finanças das empresas e, em decorrência, fez despencar os orçamentos das unidades acadêmicas que delas dependiam. A comunidade concluiu que o MIT havia sido míope ao tomar uma decisão que, se permitiu superar o desequilíbrio econômico no curto prazo, fez a instituição depender exageradamente de patrocínio empresarial, pois este estava vinculado umbilicalmente aos humores dos ciclos econômicos. Críticos mais acerbos apontaram o caráter corrompedor da dependência excessiva de financiamento do empresariado, ponderando que a busca de dinheiro rápido teria levado o MIT a leiloar a sua autonomia intelectual. Dinheiro enodoado, em outras palavras.
Como sair do enrosco orçamentário pela via do dinheiro impoluto? Buscar fundos públicos poderia ser uma saída. Contudo o MIT, assim como outras universidades privadas, opunha-se à renovação da busca de recursos governamentais, como a feita nos seus primórdios, por entender que o estamento burocrático, especialmente o federal, interferiria ainda mais nos afazeres universitários do que costumam fazer os patrocinadores empresariais ou filantrópicos. A consulta a universidades públicas sobre a sua relação com as burocracias estaduais respectivas corroborava essa apreensão. A solução encontrada pelo MIT foi negociar com o Governo Federal um modelo inovador: ao invés de aportar recursos em forma de subvenção, eles viriam no bojo de contratos de prestação de serviços.
A utilização desse modelo “bombou” durante o envolvimento acadêmico no esforço militar da Segunda Guerra Mundial, chegando o MIT a ter mais de 90% do seu orçamento corrente financiado por tais contratos. Esse modelo se tornou referência e foi extensivamente copiado pelo sistema universitário nos Estados Unidos e em outras partes. As anteriormente fortes resistências acadêmicas ao percebimento de recursos governamentais se dissiparam e buscá-los passou a ser “o novo normal”.
Figura-chave nessa transformação foi Vannevar Bush (1890-1974), brilhante engenheiro inovador e professor do MIT que, como seu vice-reitor, idealizou o modelo de contratação descrito. Mais tarde, nomeado para liderar o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico (OSRD, na sigla em inglês) dos Estados Unidos durante a guerra, ele celebrou milhares de contratos de pesquisa com universidades, incluindo os que levaram ao desenvolvimento do radar e da bomba atômica.
Como é sabido, ao se aproximar o final do conflito militar, Bush negociou com os presidentes Roosevelt e Truman a perenização do modelo de financiamento das universidades que se mostrara exitoso para fins bélicos, fazendo-o ser o “padrão ouro” também para fins de suporte às pesquisas de caráter civil. A criação da Fundação Nacional de Ciência (conhecida pela sigla em inglês NSF), em 1950, coroou o modelo, ao colocar uma camada de cientistas gestores entre a burocracia federal e as universidades, mitigando assim a desconfiança destas sobre o poder de influência política direta por parte dos governantes de plantão.
Esse modelo, que viabilizou duas décadas de prosperidade para as universidades, com resultados excepcionais para a sociedade ampla daquela nação, começou a “fazer água” no final da década de 1960, em face dos acontecimentos em torno da Guerra do Vietnã. Emergiu uma oposição combativa de segmentos da comunidade acadêmica, especialmente do corpo discente, ao envolvimento das universidades naquele conflito. Esse comprometimento se dava por pesquisas para fins militares, financiadas com generosos contratos federais, em especial os celebrados com o Pentágono. Dinheiro do governo tornou a ser maculado aos olhos da comunidade acadêmica.
A gravidade da mácula pode ser aquilatada pela decisão da Universidade de Stanford de banir o Stanford Research Institute, unidade acadêmica que desenvolvia já por duas décadas pesquisas e suas aplicações ao meio industrial. As pesquisas em andamento e as que se seguiram passaram a ser feitas por um novo instituto independente, fora do campus, mas perto dele. Seu nome, não por coincidência, era SRI – hoje SRI International. No MIT, as manifestações levaram à defenestração do célebre Laboratório de Instrumentação, criado na década de 1930. As suas atividades passaram a ser realizadas por um novo laboratório independente, denominado Draper, em merecido reconhecimento ao professor que o criou. Ele se instalou em local fora do campus, mas perto dele, facilitando a manutenção de intenso relacionamento com a sua alma mater.
Novas fontes de recursos foram sendo criadas pelo MIT em décadas posteriores, como a comercialização de tecnologias e o investimento em empresas geradas por pesquisas acadêmicas. Os modelos contemporâneos de financiamento dessa e de outras universidades são híbridos, captando recursos de origens diversificadas, que ensejam a constituição de fundos patrimoniais (endowments), alguns dos quais bilionários (o da Universidade de Harvard é de US$ 53 bilhões).
Cada fonte de recursos tem o seu odor singular, que pode ser atraente para alguns setores da comunidade acadêmica e repulsivo para outros. Para tornar a “respiração acadêmica” ainda mais complicada, o odor que inicialmente era percebido como fragrância pode passar a ser sentido como fedor. Vários doadores recebidos com tapete vermelho passaram a ser execrados ao se tornar público o seu envolvimento em negócios condenáveis ou o seu endosso a agendas políticas intoleráveis. Em casos extremos, essa mudança perceptual tem levado à renomeação de edificações doadas e de cátedras financiadas.
É importante notar que, assim como as universidades são sensíveis aos odores do aporte governamental, também os governos têm olfato aguçado no que se refere aos recursos financeiros das universidades. Assim, pela ótica de governantes beligerantes, a existência de fundos patrimoniais vultosos descaracterizaria a universidade como locus acadêmico, tornando desnecessário o aporte de recursos públicos e merecendo ela ser tratada como um negócio – o que implicaria a perda da isenção tributária e o pagamento de tributos sobre o fundo patrimonial. Vale mencionar que a cruzada do atual governo estadunidense contra 60 universidades poupou por ora o MIT, que tem um fundo patrimonial de US$ 25 bilhões.
O exame dos argumentos utilizados nas acerbas discussões mantidas no MIT e no meio acadêmico norte-americano em geral sobre fontes de financiamento mostra que recursos públicos podem exalar perfumes encantadores, como também odores pestilentos. Ilustração contemporânea dessa ambivalência é a carta A promessa do ensino superior norte-americano, enviada em 14 de abril de 2025 pelo reitor Alan Garber à comunidade da Universidade de Harvard, pouco após receber missiva com extensa lista de condicionalidades requeridas pelo governo norte-americano para manter o status quo do relacionamento. Excertos relevantes, em tradução livre, são transcritos a seguir.
Os recursos do governo eram fragrâncias:
“Por três quartos de século, o governo federal concedeu bolsas e contratos a Harvard e outras universidades para ajudar a custear trabalhos que, juntamente com investimentos das próprias universidades, levaram a inovações revolucionárias em uma ampla gama de áreas médicas, de engenharia e científicas. Essas inovações tornaram inúmeras pessoas em nosso país e em todo o mundo mais saudáveis e seguras”.
Todavia, tornaram-se pestilência:
“Encorajo-vos a ler a carta [enviada pelo governo] para obter uma compreensão mais completa das exigências sem precedentes feitas pelo governo federal para controlar a comunidade de Harvard”.
A análise das exigências indicou se tratar não apenas de um odor incômodo, mas de um gás venenoso, fatal para a autonomia de Harvard, levando a sua direção a responder que: “A Universidade não abrirá mão de sua independência nem abrirá mão de seus direitos constitucionais”.
Merece atenção a menção do reitor de Harvard apenas a universidades privadas na destemida defesa que faz da autonomia universitária como valor inegociável:
“(…) Nenhum governo — independentemente do partido que esteja no poder — deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem elas podem admitir e contratar, e quais áreas de estudo e investigação elas podem seguir”.
Novas modalidades de financiamento do sistema universitário precisarão ser pensadas, discutidas e negociadas. Será útil aos dirigentes universitários recordar a afirmação de John Campbell Merriam (1869-1945), paleontólogo e educador que ocupou posições de direção em instituições de destaque no mundo científico daquele país: “Historicamente, nosso esforço constante tem sido manter a Academia Nacional [e o Conselho Nacional de Pesquisa] livre de relações governamentais. De onde vem o dinheiro, também vem o controle”.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)