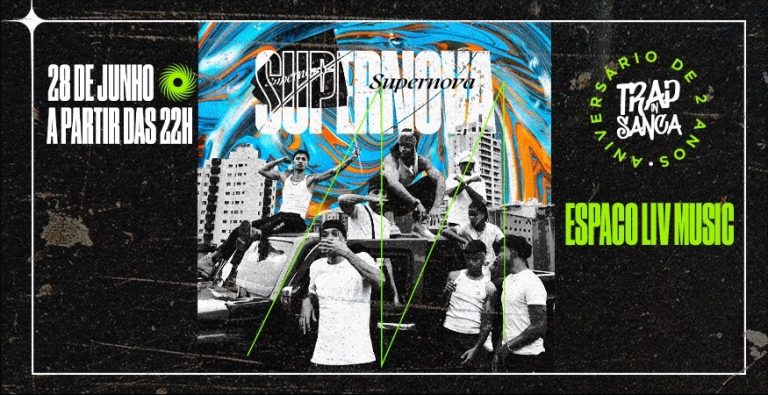Por Bella Assis
23 de maio de 2017. Vinte e cinco trabalhadores sem-terra montam acampamento na Fazenda Santa Lúcia, em Pau D’Arco, sudeste do Pará. Naquele começo de manhã, ainda passando café, ouvem carros se aproximando. Carros da polícia. Com medo, o grupo se enfia na mata, debaixo da chuva forte. “Quem correr, morre”, sentencia um dos policiais, momentos antes do que viria a ser conhecido como a chacina de Pau D’Arco — aquela em que dez pessoas foram executadas a sangue frio por policiais civis e militares. “Eles atiraram para matar. No meu tio, atiraram só na cara”, dizem familiares à imprensa, horas depois. A polícia afirma que foi recebida a tiros ao chegar com mandados de prisão, embora nenhum agente tenha se ferido.
“Se não aparecer ninguém para contar a versão verdadeira do que aconteceu, vai ficar só a versão da polícia”, diz outra pessoa, perto das lentes da câmera. É justamente dessa urgência — a de encontrar quem tenha visto, vivido e tenha coragem de pôr o pescoço na reta — que parte o documentário Pau D’Arco, dirigido por Ana Aranha e realizado com orçamento de jornalismo independente. O filme, que estreou neste mês no festival É Tudo Verdade, foi gravado ao longo dos últimos sete anos, acompanhando a luta por justiça daquele que seria o único sobrevivente a revelar publicamente sua identidade: Fernando dos Santos, um homem gay que busca prosperar no Brasil rural e que carrega o trauma de ter visto seu namorado e amigos serem assassinados diante dos próprios olhos. Ele é apresentado no filme como A Testemunha.
E mal dá pra imaginar o peso que é ser testemunha (e sobrevivente) de uma chacina, né? Ainda mais quando o Estado joga na cara das vítimas que ele mesmo não busca justiça. Porque Fernando segue sendo uma testemunha — uma testemunha muito ameaçada, por sinal — e tudo ali em Pau D’Arco segue empacado. O tempo passa, a gente vê o mandato de Bolsonaro, os anos da pandemia, e a morosidade desse processo judicial é a única que não leva um “susto” pra ver se desaparece. Infelizmente, até hoje Pau D’Arco segue sem o julgamento dos executores, sem a identificação dos mandantes, sem a desapropriação definitiva da Fazenda Santa Lúcia para fins de reforma agrária, e sem qualquer tipo de indenização ou apoio do Estado às famílias das vítimas.
É doloroso assistir a esse passar do tempo — algo que deveria curar Fernando, mas que só vai acumulando mais e mais camadas de injustiça. Cada passo à frente na luta por justiça e pela reforma agrária vem acompanhado de uma rasteira do Estado — seja na forma de uma nova ameaça às testemunhas (sem elas, não existe julgamento, certo?), seja na tentativa de expulsão das 200 famílias que buscam se assentar em Santa Lúcia. Durante a sessão no É Tudo Verdade, ouvia-se o tempo inteiro aquele suspiro coletivo, aquela indignação engasgada de todo mundo que não aguentava mais ver Fernando em constante alerta, sem conseguir simplesmente viver em paz porque o Estado não permitia que o crime fosse resolvido.
E é só isso que nossa Testemunha quer: viver em paz. O sonho de Fernando é o mesmo de milhares de trabalhadores sem-terra no Brasil: ter um pedaço de chão para viver tranquilo, plantar com dignidade, sem medo de morrer por colocar a mão na terra. O sonho de Fernando é o de muitos que, expulsos das terras, se entopem nas cidades (êxodo rural forçado), sem recurso, sem espaço, em busca de uma alternativa — quando tudo o que queriam era viver da agricultura familiar, daquilo que sabem fazer. Mas, num país com tantas violações de direitos humanos, esse direito básico — o de morar e plantar — é mais um dos não reconhecidos pelo Estado. Um Estado que assiste quietinho enquanto um crime como a chacina de Pau D’Arco é abafado bem debaixo de seu nariz — por vezes, transferindo a culpa da “reação” dos policiais para os próprios trabalhadores sem-terra, vistos como uma ameaça.
É por isso que, no filme, o começo se amarra com o final em cenas de gente plantando, cuidando da terra, tentando torná-la produtiva. E, no meio da história (do filme e do país), temos que ouvir o discurso de Bolsonaro chamando os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de “vagabundos”, defendendo, barbaramente, que eles precisam ser detonados. É cruel. E, ao mesmo tempo, simbólico. O contraste entre o discurso de ódio e a imagem de quem planta, ao longo do filme, chega a ser brutal. Mostra o abismo entre a realidade e essa narrativa construída para criminalizar os defensores da reforma agrária, para criminalizar famílias que, muitas vezes, são desumanizadas — vistas pelo poder como números, não como gente real. O advogado Vargas, também protagonista do documentário, comenta que uma coisa é o juiz ler no papel que são 200 famílias lá em Santa Lúcia, mas que é diferente se ele tiver que olhar dentro do olho de cada uma daquelas pessoas e dizer que elas serão, sim, expulsas daquela terra. Por isso, numa das audiências, os trabalhadores fazem questão de comparecer do jeito que são — com seus sapatos surrados, sujos de terra — contrastando com os sapatos engomados e saltos altos das autoridades. De um lado, quem trabalha e vive da terra; do outro, quem decide seus destinos sem literalmente nunca ter pisado nela.
E que sonho seria ver Fernando realizar o seu de uma vida simples e tranquila. Fernando é daqueles personagens cuja presença na tela é mais do que magnética. Desconfiado, engraçado, irônico e cheio de respostas rápidas. Afiado — mas é o jeito dele de se proteger, de não deixar sua dor virar espetáculo. Mas, mesmo tentando se fechar, Fernando é dessas pessoas que iluminam o espaço — daquelas que dá vontade de puxar uma cadeira e só ouvir falar. A essa altura, a gente já se apegou. Fernando virou alguém próximo, alguém por quem a gente torce, teme, se preocupa. Teme que continue ali, sofrendo ameaças, carregando o peso de ser A Testemunha. Por isso, quando ele envia uma mensagem de voz para a jornalista e diretora do documentário, Ana, dizendo que vai sair daquelas terras, que não aguenta mais viver angustiado, ansioso, temendo pela própria vida, a sensação é confusa: ficamos tristes por ele ter sido intimidado a ponto de largar tudo o que construiu, mas também aliviados por vê-lo tentando buscar segurança. Só que esse alívio dura pouco. Porque, antes que a gente se lembre da realidade cruel, ela se impõe: Fernando é assassinado com um tiro na nuca minutos depois de decidir ir embora. Tiraram Fernando da gente. De repente. Como tiraram dos amigos, da jornalista Ana que o acompanhava há anos, do advogado Vargas que defendia as vítimas da chacina. E a ausência de Fernando pesa. Pesa muito.
Ele só para se morrer — e, mesmo assim, talvez não pare.

Com tanta morte, tanta pancada, dá vontade de desistir, né? Ana, a jornalista, está desanimada. As outras testemunhas, com mais medo do que nunca. O assassinato de Fernando segue impune. A cada nova cena, o espectador sente esse cansaço — a mistura de frustração e revolta. E é exatamente nesse momento que Vargas faz toda a diferença.
Vargas é o advogado que se tornou essencial na luta por justiça após a chacina de Pau D’Arco. Ele não era envolvido com a reforma agrária. Mas tudo mudou quando perdeu Jane, uma das vítimas do massacre e sua grande amiga — mulher firme, importante na organização da ocupação e nas pautas do movimento. A dor da perda de Jane foi o que o colocou de vez nessa luta. E, dali em diante, cada nova perda — como a de Fernando — só reforçou sua certeza de que não pode parar. Como ele mesmo diz: “A gente só para quando morre.”
Essa obstinação de Vargas não é força vazia. É uma resistência cravada no afeto, na indignação, na memória de quem perdeu. Mesmo quando admite que, talvez, se não tivesse insistido tanto, Fernando ainda estivesse vivo, ele entende que não tem mais volta. E é essa consciência que também nos acorda. Que chama o espectador de volta pra luta. Quando tudo parece desabar, quando até quem assiste ao filme está prestes a jogar a toalha, é Vargas quem faz a gente acordar pra vida.
Ele leva porrada, mas levanta de novo. E de novo. E de novo. Até preso injustamente ele é. Vargas cai muitas vezes. Mas cada queda parece deixá-lo mais inteiro. Maluquice que deixa a gente maluco também. É impossível ver esse filme e não sair louco, com vontade de fazer algo. De ajudar, de gritar junto. Porque o Brasil perdeu pessoas. Pessoas reais. Que sonhavam com uma vida tranquila e que morreram por esse sonho. E, por mais que a dor tente paralisar, a empatia nos convoca. Esse filme não pede só que a gente assista. Ele quer que a gente se levante junto ao final da sessão. E essa força de convocação é tão genuína que, no breve debate após a exibição do filme, um espectador fez uma pergunta que deveria grudar no coração de cada brasileiro: “Como é que nós podemos ajudar?” A resposta não é simples, mas passa por apoiar movimentos como o MST, pressionar autoridades por justiça e compartilhar a história do filme para que ela não seja esquecida.