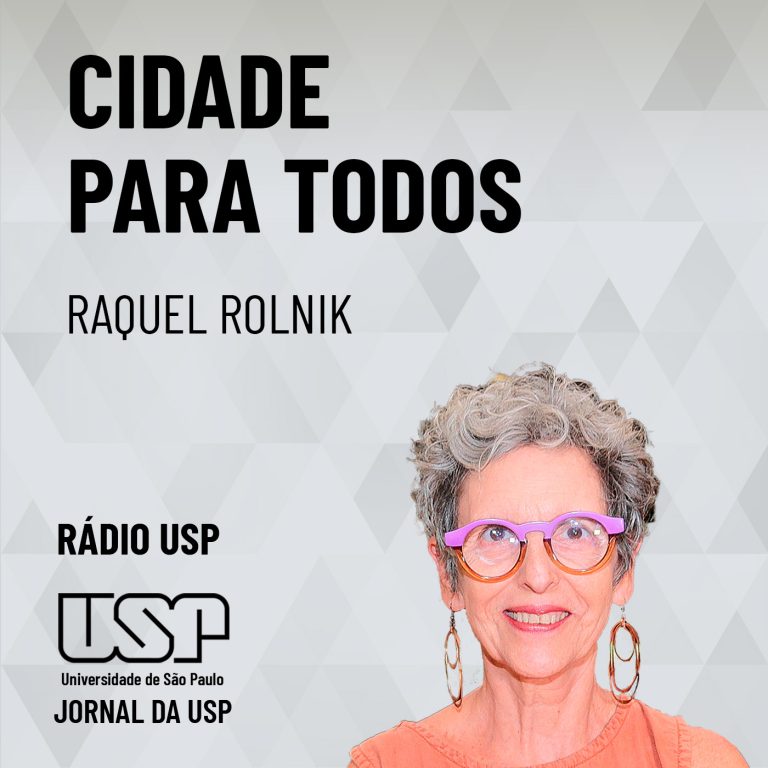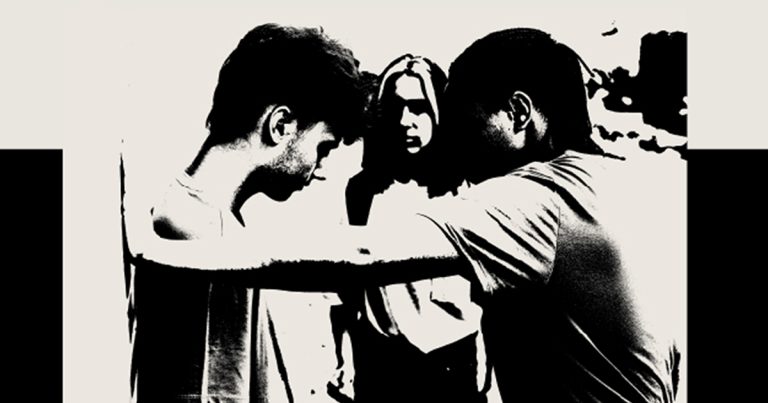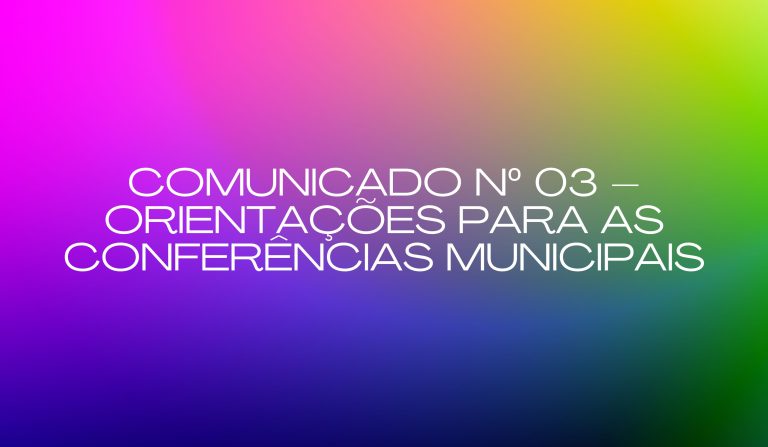De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), até maio de 2024, o número total de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu 120 milhões. Dessas, 43,7 milhões eram refugiados, incluindo seis milhões de refugiados palestinos assistidos pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA). Além disso, havia 68,3 milhões de deslocados internos (ou seja, pessoas que migraram dentro de sua própria nação) e 6,9 milhões de solicitantes de asilo.
Além disso, o número de migrantes internacionais em todo o mundo foi estimado em aproximadamente 281 milhões, conforme indicado no Relatório Mundial sobre Migração de 2024. O conjunto de todos esses dados estatísticos aponta, de fato, uma crise humanitária global.
Vários são os motivos que fazem as pessoas estarem nessas condições: perseguições de todo tipo (política, religiosa, ideológica, sexual e de gênero, entre outras), desastres ambientais, condições estruturais políticas e sociais, guerras, conflitos, e por aí vai. Essa experiência — do deslocamento migratório forçado — impõe uma série de desafios para refugiados e migrantes ao redor do mundo. Deixar para trás seu lar, sua família, suas referências, enfim, experiências de toda uma vida, é um processo doloroso, marcado por traumas e incertezas que vão além da simples adaptação em outra localidade. Se, por um lado, o refúgio representa a possibilidade de um recomeço (sobrevivência), por outro, acarreta uma série de obstáculos na busca por dignidade, pertencimento e reconstrução.
O sociólogo Anthony Giddens nos mostra uma questão interessante ao falar de identidade. Ao experienciar o que significa ser humano, estamos escrevendo nossa narrativa, uma biografia com muitas nuances e variáveis. Segundo o autor, nas sociedades contemporâneas, sujeitamo-nos invariavelmente a uma série de mudanças e instabilidades que impactam a construção de nosso “eu”, resultando em um processo de descontinuidade biográfica, isto é, o ato que divide o eu-biográfico em um eu-fragmentado.
Dialogando com o conceito de “modernidade líquida” de Zygmunt Bauman, tão conhecido nas áreas humanas e sociais, penso que aqui se encaixa a experiência do deslocamento migratório forçado, como um movimento de instabilidades e múltiplas variáveis, de riscos, dinâmicas, incertezas. Ao mesmo tempo, de aquisições e trocas culturais, de adaptabilidade e flexibilidade, de pertença e referência, de simbologias e cosmologias, de formação e performance. Em outras palavras, uma série de fragmentações e desfragmentações que resultam em descontinuidades líquidas e biográficas.
A experiência do deslocamento migratório forçado começa muito antes de seu movimento, isto é, do sair de sua casa, cidade e até mesmo nação. Começa quando seus direitos humanos são violados a ponto de ser dito “preciso ir embora”. Mesmo informados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, os direitos de ir e vir, constituir família, ter acesso aos serviços básicos de saúde, educação, lazer e tantos outros, na prática, além de informados, eles são de fato assegurados?
A inserção local é um dos primeiros desafios enfrentados. Muitos refugiados chegam à nação de acolhida sem redes de apoio, desconhecendo as burocracias sociais daquela nação e enfrentando dificuldades habitacionais. Em muitos casos, são direcionados a abrigos humanitários (ou locais de semelhante definição), onde a permanência prolongada pode dificultar a autonomia e a inclusão efetiva na sociedade. A falta de políticas públicas eficazes para a integração desses indivíduos agrava essa condição, tornando o recomeço ainda mais árduo.
No que diz respeito a emprego e renda, a maioria dos refugiados enfrenta dificuldades para validar seus diplomas, reencontrar suas profissões ou acessar oportunidades dignas de trabalho. A informalidade e a exploração surgem como realidades comuns, submetendo esses indivíduos a jornadas exaustivas, baixos salários e, muitas vezes, condições degradantes. A ausência de políticas que facilitem a integração laboral acarreta não apenas dificuldades econômicas, mas também sentimentos de frustração e impotência.
O desafio da comunicação também se impõe de maneira significativa. A barreira linguística dificulta a socialização, a empregabilidade e o acesso a serviços básicos, como saúde e educação. A aprendizagem de uma nova língua exige tempo, recursos e apoio institucional, elementos nem sempre garantidos nos países de acolhimento. Essa dificuldade reforça a sensação de exclusão e limita o desenvolvimento pessoal e profissional desses sujeitos.
A adaptação cultural é outro aspecto complexo. Além das diferenças de hábitos e valores, muitos refugiados enfrentam a xenofobia e o preconceito, que se manifestam de forma estrutural e cotidiana. O discurso de ódio, a discriminação no mercado de trabalho e a marginalização reforçam barreiras invisíveis que impedem uma integração plena, fatores que alimentam essas hostilidades.
A experiência do deslocamento migratório forçado também não termina quando são recebidos na nação de acolhida. O refúgio é uma marca que permanece visível aos olhos dos refugiados diariamente, carregada de estigmas, traumas e outras mazelas que se manifestam no cotidiano: na busca por emprego; nas andanças nos ônibus e metrôs das grandes cidades; nos comentários de seus filhos a respeito do tratamento dos coleguinhas e professores na escola; quando lembram de suas casas e vida em sua nação e não podem retornar a elas; quando buscam em suas memórias suas referências agora inalcançáveis em decorrência do distanciamento geográfico de sua nação, enfim, em todo um conjunto de ressignificações em constante transformação.
Refugiados e migrantes não são apenas números em estatísticas de deslocamento; são indivíduos com histórias, sonhos e potencial para contribuir com suas novas comunidades. A integração dessas populações deve ser vista como um investimento, não como um fardo. A responsabilidade de garantir uma acolhida digna não é apenas dos governos, mas da sociedade como um todo. Políticas públicas eficazes, iniciativas de empregabilidade, programas de ensino de idiomas e combate à xenofobia são passos essenciais para transformar desafios em oportunidades.
Tanto migrantes e refugiados, quanto eu e você, temos nossas taxas de recomeços. De um novo emprego, um novo texto, um novo relacionamento, uma outra oportunidade qualquer. Em nossos recomeços, buscamos ressignificação, outras oportunidades, dignidade, acolhida. A diferença é que um migrante/refugiado passa por múltiplos e simultâneos processos de recomeços – e muitos desses impactam seriamente sua vida e sobrevivência – de modo que são necessários poder público, investimentos, políticas, e toda uma estrutura para apoiá-los e acolhê-los em suas trajetórias de percurso por sobrevivência. É como Caetano escreveu, cantarolado depois por Gal Costa em 1967: “Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer”.
Que um dia as nossas fronteiras (não as físicas, geográficas) se tornem pontes de acolhimento, tornando nossos recomeços mais leves.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)