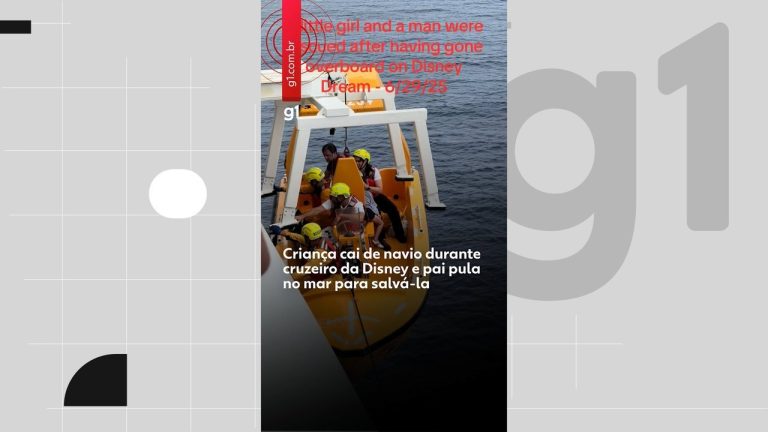Por Hyader Epaminondas
Há algo profundamente inquietante no argumento de Tony Gilroy para a segunda temporada de Andor, uma tensão latente que vibra sob a superfície, como uma memória incômoda prestes a emergir. Gilroy mantém sua atenção obsessiva aos detalhes mecânicos, traduzindo essa fixação numa encenação quase hipnótica, onde a analogia visual se alia a uma sonoplastia metálica e precisa, conferindo à série uma pulsação única, fria e irresistível.
Não se trata apenas de uma série sobre a ascensão da Aliança Rebelde, mas de um mergulho denso no que Star Wars historicamente silenciou. As ruas, os corpos, os silêncios da opressão imperial emergem não como pano de fundo, mas como sintomas de um trauma mal resolvido, uma parte da galáxia que nunca foi completamente digerida pelas narrativas clássicas da saga.
Diego Luna retorna com um Cassian Andor, neste segundo ato, cada vez mais exaurido. Seus olhos carregam o peso de quem já entendeu que a luta não oferece glória, apenas continuidade. Nunca foi um herói, mas uma testemunha silenciosa, quase um NPC nos corredores da história, que atravessa os dias absorvendo a pulsação de um mundo à beira do colapso. A câmera o acompanha com inquietação íntima, serpenteando por becos, celas e esconderijos, como se buscasse capturar não a ação, mas a hesitação que a precede.
O tempo em Andor se distorce para revisitar os quatro anos anteriores a Rogue One: Uma História Star Wars, com uma fluidez onde cada ano é adaptado em uma sequência de três episódios. A repressão, a vigilância e o medo não são encenados como espetáculo, mas como atmosfera constante. A juventude rebelde se levanta com a pureza de quem ainda acredita, mesmo caminhando em direção ao desencanto. A violência não explode: infiltra. Está nos diálogos secos, nos olhares que evitam, nas pausas longas demais para serem apenas silêncio.
Vamos chamar isso de… Guerra!
A série se desdobra a partir de quatro perspectivas principais, com Cassian navegando entre elas, quase como um espelho do público diante dos eventos. A primeira visão é a do Senado, onde Mon Mothma, vinda da elite de Chandrila, em sua resistência política, tenta deter o avanço implacável do Império, ainda tentando salvar os fragmentos de uma democracia moribunda, insistindo em preservar os ritos democráticos mesmo quando já não há mais espaço para eles.
Sua ingenuidade diante da brutalidade do regime imperial contrasta com a lucidez amarga de Luthen, que, operando nas sombras, compreende que a violência, o sacrifício e a manipulação são inevitáveis em uma guerra assimétrica. Essa tensão entre os dois, mais do que estratégica, também atravessada por um abismo de classe, se intensifica ao longo da segunda temporada, revelando não apenas formas opostas de resistência, mas realidades sociais completamente distintas.
A terceira, o próprio Império, representado pelo casal Dedra Meero e Syril Karn, ambos com uma devoção quase fanática, não apenas ignoram as atrocidades que cometem, como também aprendem a justificá-las em nome de uma suposta ordem maior. Consumidos por uma estrutura que anula qualquer traço de humanidade, esses personagens evoluem de forma surpreendente ao longo da narrativa, protagonizando alguns dos momentos mais memoráveis da série.
E a última, no episódio dedicado ao revolucionário Saw Gerrera, com a brilhante atuação de Forest Whitaker, revelando, com intensidade crua, o custo real das ações da rebelião. Saw encarna a face irrefutável das consequências brutais da guerra. Quando George Lucas se inspira nos vietcongues para criar os rebeldes, é em Saw que sua visão mais realista finalmente se concretiza. Ele não é apenas uma parte da Rebelião, ele é o lembrete de que, às vezes, a liberdade vem coberta de sangue e contradição.
O machado esquece, mas a árvore lembra
Os planetas retratados, ou melhor, os fragmentos livres do controle imperial, se comprimem em bases subterrâneas, corredores estreitos, salas sufocantes. É um realismo opressor que torna o espaço claustrofóbico. Os corpos se agitam entre a euforia clandestina e o esgotamento iminente. Tudo ali é saturado, denso, comprimido.
O Império fabrica a verdade que será lembrada. O controle do discurso oficial é tão brutal quanto o das armas: silencia, apaga, reescreve. A burocracia vira arma, e o silêncio institucionalizado se torna a linguagem oficial do poder. A série compreende que, em regimes autoritários, o vocabulário da opressão é cuidadosamente higienizado. Tortura vira segurança. A vigilância vira ordem. É assim que se instala a lógica da pós-verdade, onde os fatos perdem força e narrativas conflitantes se sobrepõem, até que a sombra do dominante apague por completo a dor do oprimido. E, diante do ruído, já não se sabe quem está certo, apenas quem tem o controle da história.
O momento mais simbólico desta temporada é a marcha lenta e inevitável rumo ao Massacre de Ghorman. Andor não o trata como um simples ponto de virada, mas como uma ferida exposta, pulsante. Cada episódio funciona como um compasso dessa tragédia anunciada, um acúmulo de tensões à beira do transbordamento. A série compreende que as rebeliões não nascem de grandes discursos, mas da exaustão diante do insuportável. Ghorman não é a origem heróica do levante: é a gota que rompe a barragem da passividade.
À medida que se aproxima desse marco, Andor atinge uma maturidade brutal. O discurso de Mon emerge como um ponto de ruptura, denunciando a distorção da verdade. Esse momento de clareza cortante ecoa pelo Senado e, ao denunciar não só o genocídio em Ghorman, mas também a manipulação sistêmica do Império, ela se posiciona como a voz que resiste à era da desinformação. O discurso surge como uma resposta à era da pós-verdade, fazendo um paralelo direto com o discurso de Palpatine em A Vingança dos Sith. Mas, desta vez, não se trata da ascensão de um império, mas do despertar da Aliança Rebelde.
A revolução não é para os sãos
Não há euforia em fundar uma aliança, há luto. O que testemunhamos não é a gênese de heróis, mas o colapso de pessoas comuns esmagadas por uma estrutura que só reconhece o medo como instrumento de poder. Cassian, cada vez mais esgotado, é o corpo por onde essa dor atravessa. A rebelião não surge como um gesto glorioso, mas como resposta tardia, como cicatriz, como último suspiro de esperança.
Gilroy insiste em manter as contradições ideológicas à vista porque sabe que a memória coletiva não se constrói com finais felizes, mas com o reconhecimento do que doeu. Não há mártires de mármore ou vilões caricatos. A série recusa o conforto da nostalgia e a segurança de narrativas simplificadas. O que oferece são figuras humanas: frágeis, contraditórias, inquietas e, por isso mesmo, reais. Se Andor é uma história de rebelião, ela se dá nos termos mais duros possíveis: como denúncia, como sintoma, como alerta. Afinal, rebeliões são construídas com esperança.